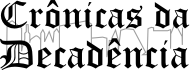Era no tempo da copa. Os gringos chegam, e é um tremendo vai-e-vem de táxis e carros alugados. A cidade se extende mar de morros adentro, são doze milhões de habitantes em seus seis milhões de veículos. Entretanto, seis milhões sem carro não é baixo número: imagine todos esses seis milhões pendurados nos "seca-subacos" dos ônibus da cidade. Três milhões deles, sabe-se usam os mirrados quilômetros de metrô que a cidade tem, e o resultado disso não se deixa mentir pelas fotos publicadas nos jornais, vez por outra, na eventualidade de uma falha.
Mas para onde vão? De onde vem? Do que vivem? Ora, alguns fingem que estudam, outros fingem que trabalham, outros, mais honestos, se deixam confessar que vivem pelo smartphone. Porém, passear com o smartphone não é tarefa simples, em uma cidade tão grande. Quer ir à Rua Sete de Abril para obter o assalto perfeito? Ali passa o Estação da Luz. Quer ir à Santa Ifigênia? Ali passa o Praça Ramos. MAS ESPERE? O que é esse tal de "Praça Ramos", um pobre incauto poderia perguntar, com seu tablet debaixo do braço, pronto para uma leitura de um livro do Paulo Coelho. Você, paulistano da gema, responde maquinalmente: 8707 ¹.
E o que é esse diabo de 8707 ¹? O paulistano apressado aponta para um ônibus laranja e segue seu caminho antes mesmo de dizer "Boa tarde". Parece fácil, mas as linhas de ônibus não vão de um ponto a outro, apenas. Passam por uns, perpassam outros. É um ziza-zaque de um zique-zira danado. E quem explica? Freud sentiria dificuldades, ao desembarcar no Terminal Santo Amaro. Por que tantos números, placas, códigos?
O sistema de ônibus de São Paulo é uma equação de segundo grau que nem Pierluigi Piazzi resolve. Aliás, ao que sabe, nem a equipe da gestora de transportes poderia resolver, mesmo em equipe. O metrô é simples, cada estação é uma fanfarra de luz e gente bem sinalizada. Mas e um ponto? Um ponto é um toco de madeira espetado na calçada. Às vezes é uma suntuosa estrutura de metal. Mas e a lista dos serviços? Ninguém sabe, ninguém viu. O Zé Tião da Padaria vai saber te informar melhor, meu.
Para começo de conversa, temos um sistema multicolorido no qual cada área tem uma cor, mas no qual, também, pode-se ver um ônibus da puta que o pariu extrema atravessando NUMA BOA outra área. Esqueça a cor, certo? Vamos aos números. Aos milhões de passageiros? Não, meu caro. Há um código de quatro caracteres, exibido pelos ônibus. É o 8707 do qual você não entendeu nada. Desses quatro caracteres, temos o primeiro, que não quer dizer absolutamente nada, o segundo, que não diz lhufas, o terceiro, que não faz sentido e, por final, o quarto, que às vezes é uma letra, às vezes um número. E agora, José?
Para Platão, a idéia de código é outra. Peguemos 828P, por exemplo. O oito é a área, o dois é alguma distância aleatória que o burocrata pegou e o oito é, em tese, a área final. "P" é um ponto importante no qual ele passa. Na prática, isso funciona: Lapa (área 8) -> Barra Funda (área 8), via algum lugar que comece com P (ou tenha P como letra marcante). Às vezes também pode ser a inicial da paixão do burocrata que criou a linha ou do filho mais novo dele. Se temos quatro dígitos numéricos, a linha é daquelas que dão volta dentro do bairro ou vão parar em algum lugar do centrão, nesse caso, o primeiro dígito é a área de partida, o segundo é geralmente "zero" e os outros dois definem onde o busão para, se é ao lado do mendigo conhecido ou se é do lado do prédio precisando de reparos.
Brincadeiras à parte, há, claramente, um critério para tudo isso. Mas a prática é que esse sistema foi criado na gestão de Olavo Setúbal lá pelos idos de 79 e sobreviveu à diversas mudanças no sistema. How come? Ora, se você já tinha trinta anos em 79, deve ter odiado saber que seu ônibus "666" virou "866B" ou algo do gênero. Eram nove áreas, tudo era bonito e fazia sentido. E se não fizesse, a CMTC fingia que sim. Entretanto, das nove áreas, fizeram quatro. E das quatro fizeram oito, algum tempo depois. E em meio a esse samba do criolo doido, mantiveram o sistema, pois o João da Silva que pegava o 666 detestaria descobrir que o seu ônibus virou 4-066X.
E as cores? Ah, as cores, que pedi para esquecerem. Doutor, veja bem: não é que devem ser esquecidas, mas somos latinos. Como bons latinos, somos especialistas em produzir nuanças gritantes, por mais paradoxal que isso seja. Mas, ora, doutô, somos o paradoxo! As cores remontam, também, ao Olavo Setúbal. A mixórdia de concorrentes, coloridos e outros tipos precisou parecer mais oficial, daí tiveram a idéia de estipular cores para cada uma das nove áreas, sendo que os ônibus seriam pintados no esquema saia e blusa, tendo a saia na cor da região. Ainda havia um sinal forte de que o ônibus era de tal ou tal companhia. Isso, porém, se extinguiu por completo quando a Erundina resolveu concorrer com o Serra e vender seus próprios remédios: aquela famosa pintura da faixa vermelha.
Agora todos sabiam que o "Transporte é um dever do estado e um direito do cidadão". Difícil mesmo era saber de cara quem era o filho da puta que operava aqueles ônibus malacafentos cheios de barata ou daquele desgraçado que não pára nos pontos nem com o ônibus vazio. Impossível era saber, então, de rabo de olho, se aquele ônibus vai para o INOCOOP ou se te levava para as profundezas do Capão Redondo.
 |
| Os medicamentos genéricos de Erundina: tão genéricos que a cidade toda usava, recuse imitações. |
Foi assim por longo tempo. Havia variações, como a faixa azul para os ônibus de cooperativa, bem como a faixa verde, para os carrões bem motorizados, resistentes e geralmente usados nos corredores criados por Setúbal (somado a uns já projetados, porém mal implantados). Entendeu? Esqueça tudo. Agora temos novamente quase nove áreas, porém menos uma. São oito, e listar aqui dará sono. Jogue no Google Images: "Áreas São Paulo". A oitava área é laranja, daí o exemplo do 828P e 8705. Agora sabemos para onde o ônibus vai, embora continuemos sem saber de cara quem opera o carro, já que agora é ainda mais fácil de se esconder o logotipo da empresa. E aí chegamos ao problema do "doutô", ali acima: você pode estar em um ponto de ônibus na Raposo Tavares, em plena área oito, e ainda sim vir passar um ônibus verde escuro, indo ao Ipiranga (mas que na verdade vai além e finca sua estaca no Sacomã).
O fato é que não há verdade quando se fala no sistema de ônibus paulistano. Quem conhece, conhece por meio do empirismo. A falta de carro e metrô é um bom meio de treinar os usuários. Os corredores existem, sim, mas não levam objetivamente de um ponto X ao Y. Experimente pegar um ônibus qualquer no meio da Rebouças. Você pode chegar ao Paraíso, à Liberdade ou ao inferno (também conhecido como Praça da República). O resultado da aleatoriedade é inversamente proporcional ao destino em que você precisa chegar.
E, enfim, jogando os dados no tabuleiro e anotando os resultados é a melhor forma de se andar por aqui. Há um amigo meu que tem algo chamado "ansiedade social" ou, em outras palavras, timidez para falar com outros humanos que não os de sua própria manada, sei que ele jamais perguntaria ao seu Zé da padaria. Carajaense da gema, dois, três anos de São Paulo e uma dose de sorte é tudo o que tem nas mãos, depois do confuso site de nossa caríssima gestora de transportes. E, como se não bastasse a multicolorisse, ainda há ônibus prateados, há ônibus intermunicipais e diversos outros tipos de transporte de massa sobre pneus que chamam por aí de micro-ônibus (costumo chamá-los de escória).
Segue assim, que de bar em bar ou de barra em barra, Deus que protege os bêbados e desamparados cuida de levar seus escolhidos para casa. Caso você ouça AC/DC é provável que seu destino seja forçosamente Itapecerica da Serra, então sempre é prudente mencionar que estamos falando de um Deus cristão, entendem? Veja ali: aquele ônibus é abençado por Deus -- "Deus é fiel". Tão laico quanto o sistema da cidade é impossível, já que os ônibus são de Deus, os usuários de Judas e o sistema de Satanás. Aonde quer que você vá, bíblia e candelabro debaixo do braço e lá te vejo! Boa viagem.
Notas:
¹ Segundo o leitor e grande amigo Pedro L. N. Christensen, a linha 8707 apenas tange a Praça Ramos. Vergonha para quem entende razoavelmente de transportes como eu cometer semelhante erro. Mas vejamos isso como um grande exemplo dessa grande confusão.